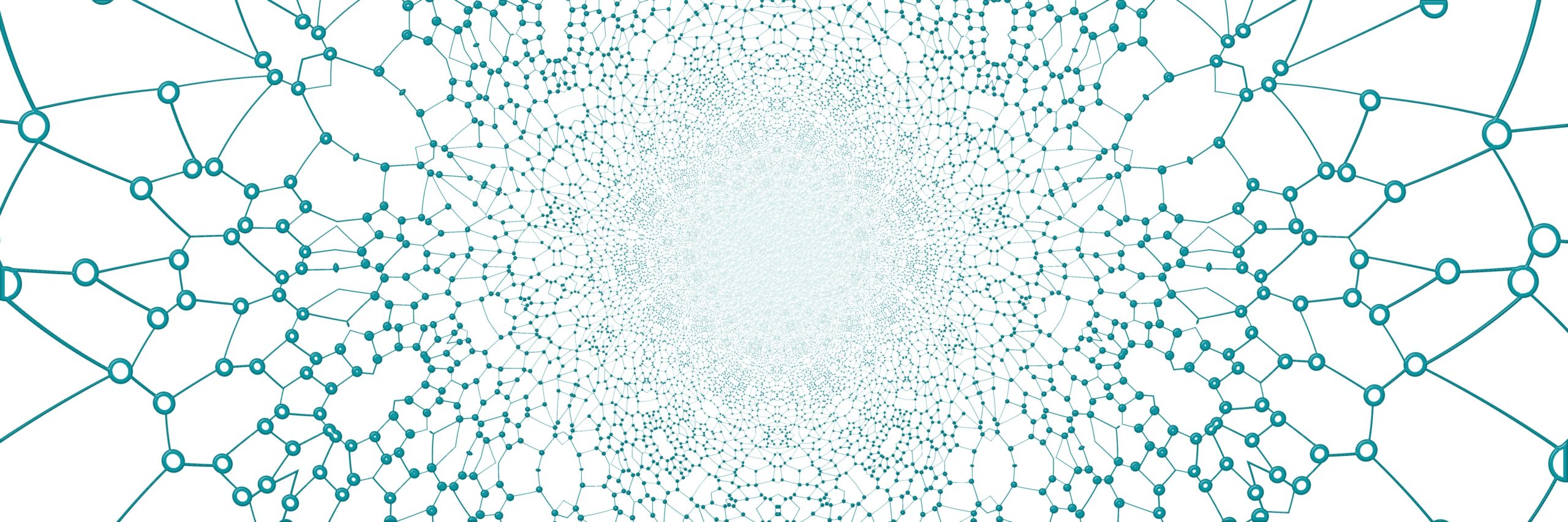José Paulo Cavalcanti Filho, jurista e escritor, membro da Academia Brasileira de Letras
Edição: Scriptum
Lisboa. A hora vem. “No claro dia, agora, frente a frente, leiamos a nossa sina (todos os textos aspeados, aqui, são de Pessoa).” Afinal, a hora de decifrar o “doloroso enigma da vida” chega e está pronto. “Leve eu ao menos, para o imenso possível do abismo de tudo, a glória da minha desilusão como se fosse a de um grande sonho.” Só que “é mais dolorosamente que isso”. É “o mal-estar de estar vivendo o cansaço de se ter vivido”; “o mal-estar de ter que viver, ainda que noutro mundo, o cansaço, não só de ontem e de hoje, mas de amanhã também, da eternidade, se a houver, e do nada”.
Os primeiros ventos quentes anunciam a primavera de seu último ano, 1935. Pressente que não verá outra. “Quando vier a Primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira.” Pouco antes escrevera quase as mesmas palavras: “Quando tornar a vir a Primavera, talvez já não me encontre no mundo.” Assim seria. Em 2 de junho, escreve mais um poema contra a ditadura de Salazar, como quem tem já certeza do fim; e, nele, lamenta o destino de Portugal como se olhasse para um espelho, ” Pesa em nós o passado e o futuro/ Dorme em nós o presente”.
Depois da primavera vem o verão, claro; mas, logo, também “esse verão apagou-se”; e já não há, nos jarros das janelas de Lisboa, os lírios, os cravos, os manjericões de folhas miúdas e as alfavacas de folhas maiores do tempo em que nasceu. “As flores do campo da minha infância, não as terei eternamente”. E segue no meu caminho.
“Tudo quanto pensei, tudo quanto sonhei, tudo quanto fiz ou não fiz ‒ tudo isso irá no outono, como fósforos gastos ou papéis amarrotados. Tudo quanto foi minha alma, desde tudo a que aspirei à casa vulgar em que moro, tudo vai no outono, na ternura indiferente do outono.” Um “outono que começa em nós”, “como um vago sono sobrevindo dos últimos gestos de agir”.
Fisicamente, todos veem, não está bem. Andava amargo, diz António Manassés ‒ filho do barbeiro que fazia, diariamente, sua barba (morava na mesma rua Coelho da Rocha, quase em frente a seu edifício). Em minuta de carta a Casais Monteiro, que fica incompleta, avisa que nada mais destinará “para (a revista) Presença ou para qualquer publicação ou livros”.
Começa, então, aquele que seria seu derradeiro novembro. Bem antes, em 22 de abril de 1922, encerrara poema dizendo: “Hoje não espero nem o muito encanto/ De haver esperado, quero o fim.” Agora, era o fim dessa espera.
Publica os três últimos artigos: no Diário de Lisboa (dia 11), “Poesias de um prosador”, sobre livro do amigo Alberto da Cunha Dias; no mesmo número 3 da revista Sudoeste, “Nota ao acaso”, assinado pelo heterônimo Álvaro de Campos, discutindo a questão da sinceridade na arte; e “Nós, os de Orpheu”, em seu próprio nome, exaltando os antigos companheiros da revista que dirigiu (junto com Sá Carneiro), e encerra dizendo “quanto ao mais, nada mais”. Os amigos não se dão conta de que falava de si próprio.
Escreve, também, os últimos poemas em outras línguas. Em inglês, The happy sun is shining (O alegre sol está brilhando), um título incompatível com seu estado de espírito; e, em francês, “Le sourire de tes yeux bleus” (O sorriso de teus olhos tristes), sem que se conheça o/a destinatário/a dos versos. Em sua própria língua, 11 dias antes de morrer, ainda escreve um derradeiro poema (Elegia na sombra), que encerra dizendo:
Há doenças piores que as doenças,
Há dores que não doem, nem na alma
Mas que são dolorosas mais que as outras.
Há angústias sonhadas mais reais
Só a prolixa estagnação das ágoas,
Como nas tardes baças, no mar morto,
A dolorosa solidão das águas.
Vinte e seis de novembro de 1935, terça-feira. Está sozinho em casa. Tem a primeira crise, com dores abdominais e febre. Nada ainda muito grave, tanto que dia seguinte estará melhor. E continua, em sua rotina exasperante, como se nada lhe houvesse acontecido.
Mas “hora a hora a expressão me falha. Hora a hora a vontade fraqueja. Hora a hora sinto avançar sobre mim o tempo. Hora a hora me conheço, mãos inúteis e olhar amargurado, levando para a terra fria uma alma que não soube contar, um coração já apodrecido, morto já e na estagnação da aspiração indefinida, inutilizada”. O essencial é que “estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer”. Em poema sem título (de 4/11/1914), diz:
Que é feito de tudo?
Que fiz eu de mim?
Deixa-me dormir,
Dormir a sorrir
E seja isto o fim.
P.S. Uma explicação ao amigo leitor. Nesses próximos dias, tenho série de compromissos em Portugal. Conferências (a primeira na Universidade de Aveiro); lançamento da edição portuguesa do livro de Maria Lectícia (A mesa de Deus), pela editora Quetsal; posse na Academia Portuguesa de Letras (Academia das Ciências de Lisboa), entre ouros afazeres. Por não ter sentido longe de casa ficar escrevendo colunas, e para não perder o contato com quem lê, deixo pronta essa pequena série de artigos. Espero que o amigo leitor, de alguma forma, compreenda e aprecie. Até logo mais.
Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.